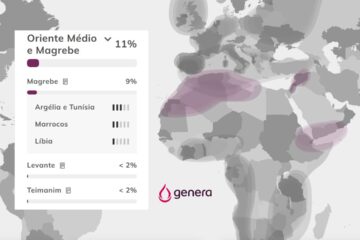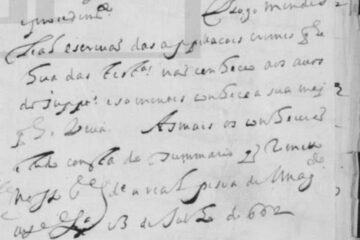Em sua coluna na Folha de S. Paulo, publicada em novembro de 2024, o jornalista Vicente Vilardaga afirmou que “não existiu um homem mais poderoso no planalto de Piratininga em meados do século XVI do que o cacique Tibiriçá”. E acrescentou: foi “graças a ele que os jesuítas conseguiram se instalar no Pátio do Colégio, que daria origem à vila de São Paulo […].” Além de aliado dos colonizadores, Tibiriçá foi sogro do enigmático e longevo português João Ramalho, que já vivia nas terras paulistas antes de 1534, em união com Bartira, filha do cacique. Por seu valor estratégico para os colonizadores, Tibiriçá foi batizado com o nome Martim Afonso – o mesmo do fundador da vila de São Vicente – e, séculos mais tarde, reverenciado como patriarca do povo paulista. Mas afinal, quem foi ele?
Tibiriçá vivia na aldeia de Inhampuambuçu, localizada onde hoje se encontra o Largo São Bento, em São Paulo. Pelo que indicam as fontes, tinha dois irmãos – Piquerobi e Caiubi – e mais filhos além de Bartira. Morto em dezembro de 1562, seus restos repousam na cripta da Catedral da Sé e quase tudo o que se conhece sobre ele diz respeito a sua participação na defesa da jovem vila de São Paulo de Piratininga, isto é, à sua colaboração com os colonizadores. Contudo, há aspectos de sua vida que permanecem controversos.

Entre esses aspectos, destaca-se sua origem étnica. Vilardaga o identifica como “líder indígena tupiniquim”, o que sugere que pertencia a uma das etnias de línguas do tronco tupi que dominavam o litoral e foram as primeiras a contatar os europeus. O jornalista cita uma carta de 1563 do padre José de Anchieta, em que se relata uma expedição conduzida por Tibiriçá contra “índios inimigos guarulhos, guaianás e carijós que moravam nos arredores de Piratininga”. Os tupis chamavam seus inimigos, os quais geralmente tinham língua e cultura diferente das suas, de tapuias, logo, se Tibiriçá conduziu expedição contra tais grupos que eram inimigos, eles não seriam tupis.
Etnolinguistas contemporâneos de fato acreditam que guarulhos e guaianás podem ter sido designações diferentes para um mesmo povo – também chamado maromomi –, que falava uma língua do tronco macro-jê, portanto não-tupi. Essa língua foi descrita no século XVI pelo jesuíta Manoel Viegas, que nela escreveu um catecismo e um vocabulário de que, infelizmente, não há mais vestígio. O problema é que, a partir do século XVIII, passou a prevalecer a opinião de que os guaianás de São Paulo de Piratininga eram tupis e não tapuias e de que Tibiriçá era um cacique guaianá-tupi. Se fosse mesmo assim, ou a tal expedição de Tibiriçá contra os guarulhos e guaianás foi um ataque a seus congêneres ou estamos diante de uma grande controvérsia.
Considerando o quanto já se escreveu sobre o assunto, parece que a segunda possibilidade é mais plausível e, se as raízes para essa controvérsia foram fincadas no século XVIII, foi entre os séculos XIX e XX que ela ganhou corpo pela inclusão de ingredientes ainda mais polêmicos. Nesse período, os paulistas buscavam consolidar uma narrativa histórica própria e apartada do restante da nação, o que resultou na elaboração de um mito fundador do povo paulista, uma construção ideológica baseada no darwinismo social que hierarquizava os povos segundo supostos graus de evolução, dando aos europeus o grau evolutivo máximo, enquanto eugenicamente condenava a mestiçagem com africanos, indígenas e asiáticos, considerados evolutivamente inferiores.
O povo paulista, como já se sabia na época, havido sido criado a partir da mestiçagem inicial entre homens europeus (como João Ramalho), de origens e condições sociais diversas, e mulheres indígenas (como Bartira). Os ideólogos do mito fundador, no entanto, interpretaram essa mestiçagem como eugênica, pois propuseram que dela teria surgido um povo diferenciado que preservava os traços mais evoluídos dos europeus e a bravura das indígenas guaianás-tupis, consideradas então como representantes de um povo já extinto. A nova imigração europeia do século XIX, por fim, teria completado o processo eugênico pelo embranquecimento do povo paulista, supostamente sem a participação do componente africano. Essa narrativa erigiu a ideia de uma raça de gigantes – o povo paulista – destinada a liderar a nação.
Entretanto, enquanto se exaltavam os supostos valorosos ancestrais guaianás-tupis já extintos, povos indígenas como os Kaingang ainda viviam no noroeste do estado de São Paulo, onde resistiam à ocupação de suas terras pelas antigas elites paulistas e pelos imigrantes recém-chegados. Por conta de sua resistência, esse povo, que ainda por cima falava uma língua não-tupi, passou a sofrer um massacre. À vista da elite política e intelectual, como tapuias que eram, eles deveriam ser combatidos tal como antes fizera Tibiriçá na expedição narrada na carta de Anchieta. A questão é que, para alguns estudiosos do passado e para os etnolinguistas contemporâneos, os Kaingang são os herdeiros dos guaianás, talvez mesmo seus descendentes, o que parece revelar um artifício no mito fundador: transformar os guaianás-tapuias de Tibiriçá em guaianás-tupis, ancestrais idealizados dos paulistas.
As origens dessa idealização, como declarei antes, foram plantadas no século XVIII, antes mesmo da criação do mito baseado no darwinismo social, por pensadores como o genealogista Pedro Taques de Almeida Paes Leme (1714–1777), autor da monumental Nobiliarquia Paulistana Histórica e Genealógica. No século seguinte, Luiz Gonzaga da Silva Leme (1852-1919) atualizou a obra de seu primo Pedro Taques com a não menos monumental Genealogia Paulistana, de nove volumes. Se na primeira obra Tibiriçá foi, quando muito, nomeado, na segunda ele e sua filha Bartira são praticamente nobilitados, por terem contribuído na formação do povo, pois, como afirma Silva Leme, ao se casarem com as “ditas índias, [os portugueses] procriaram essa raça audaz e belicosa de sertanistas e bandeirantes, que, explorando os longínquos sertões, foram plantar os marcos que atestam a vastidão de nossa pátria”.
O tom da última frase é épico e não é por acaso, afinal a tal “raça audaz e belicosa de sertanistas e bandeirantes” seria o produto de uma mestiçagem que, por contrariar o eugenismo instrínseco do darwinismo social, sofreu uma deliberada idealização. Ao destacarmos isso, evidenciamos como os ideólogos do mito fundador operaram um processo de manipulação histórica que selecionou e ressignificou personagens e grupos indígenas, convertendo-os em símbolos da ideia de São Paulo como centro civilizatório e motor da nação. Nessa operação, eles ocultaram a realidade de que Tibiriçá pode jamais ter sido um representante dos povos tupis.
José Araújo é genealogista.